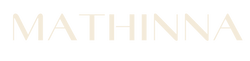Nesta entrevista para o blog do Mathinna, a curadora, pesquisadora e diretora de arte Felipa Almeida conta um pouco dos seus projetos envolvendo arte e artesanato portugueses, sobretudo a cerâmica, e do trabalho que desenvolve no seu estúdio criativo, uma casa no simpático bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, onde "cultiva" uma extensa coleção de peças da tradicional cerâmica de Portugal e obras de diferentes artistas, entre outras atividades que celebram a cultura do país. Ali, para onde se olha, tudo é arte. Felipa nasceu em Lisboa, em 1979, mas passou boa parte da vida no exterior. Cresceu na Suíça e estudou em Paris e Londres. É formada em História de Arte, Estudos Curatoriais e História de Design. Em 2006, com 27 anos, regressou a Portugal e nunca mais quis ir embora. “Vim porque sempre tive curiosidade de saber como seria viver aqui”.



Como começou sua paixão por cerâmica? Alguma influência?
Acho que a paixão pela cerâmica foi acontecendo. Um marco importante foi o projeto para os interiores do hotel São Lourenço do Barrocal, no Alentejo, que fiz com a Ana Anahory, que era a minha sócia no ateliê AnahoryAlmeida. Nesse projeto, aproveitamos o fato de ser no Alentejo para pesquisar sobre o artesanato local, e foi aí que começou todo um fascínio que nunca mais parou. Seguiu-se a vontade de alargar a pesquisa a outras regiões de Portugal, a outros centros oleiros, e a conhecer outras artes, e a partir daí também comecei a comprar algumas peças. Sem perceber e sem antecipar, comecei uma coleção de cerâmica portuguesa.



Fale-nos um pouco da sua coleção particular. Quando começou?
Antes de me apaixonar pela cerâmica, estudei História da Arte e sempre tive um fascínio por pintura – que continuo a ter – e a coleção faz-se um pouco desse diálogo apresentado entre a pintura e a cerâmica. Claro que também sou sensível ao tecido e aos outros materiais, mas os dois meios que mais me fascinam são a pintura e a cerâmica. O que gosto na coleção é de os fazer dialogar e coabitar sem qualquer complexo, porque acaba por se completar. Tenho lido bastante sobre artistas – sobretudo mulheres portuguesas –, e há pouco tempo estive a ler sobre a Vieira da Silva e descobri que ela também estava passando a vida a ir à procura de peças de artesanato, e não me espantou nada! O Eduardo Viana também pintou peças de artesanato. E já vi, em várias fotografias de ateliês de artistas, que as figuras estão lá sempre. Portanto, não sou a única com essa vontade de ver as duas artes juntas. Realmente há aqui um diálogo e certamente há uma relação com as raízes, e com outras formas de expressar arte que é muito intuitiva.




Como surgiu a ideia do ateliê e o projeto de expandir o negócio com a representação de artistas locais? Pode explicar um pouco sobre os seus projetos e como divide o seu tempo?
No espaço atual, funcionou meu ateliê de arquitetura e design de interiores durante nove anos, o qual foi fechado em 2020. Não queria perdê-lo, mas também queria dar-lhe alguma vida – e na época só tinha um quarto das peças que tenho hoje na coleção. Então comecei a alugar algumas salas para amigas que também trabalhavam com arte e uma delas me deu a ideia de fazer o primeiro Pop Up. Estávamos em plena pandemia de COVID 19, as feiras eram todas canceladas, e os artesãos reclamavam que tinham peças em estoque e não podiam escoar, porque não se faziam os mercados de fim de semana onde habitualmente as vendiam. Decidi então fazer uma “Feira Não Cancelada” e levar as peças que os artesões tinham disponíveis. Essa foi a primeira Pop Up, em dezembro de 2020. Gostei tanto do processo, de ver o espaço vivo, a ser visitado e de poder partilhá-lo que tomei gosto e comecei este ritmo de duas feiras por ano. Entretanto, também fui ocupando outras salas com a coleção e deixei de alugar a outras pessoas.
Neste processo, também têm surgido, graças às peças da coleção, temas para as exposições e inspirações para os artistas – que depois de verem as peças encontram uma cor, um padrão, uma história, um formato, ou qualquer outra coisa que os inspira e que dá o ponto de partida para novas peças. Este diálogo tem sido vital para organizar as exposições. Portanto, é uma coleção que eu sinto viva por estar a dar sentimentos, por estar também a ajudar na criação de peças novas, por ser uma referência, uma fonte de inspiração e um testemunho de um legado.



Quanto ao meu tempo, é dividido entre o passado e o presente. Existe uma coleção – que está a ser catalogada e fotografada –, e o tempo que passo em feiras, leilões, galerias... e viagens por Portugal. Depois existe uma parte da edição de livros, que tenho estado a fazer com o estúdio do alhures, com a Maria Restivo, com quem comecei um projeto sobre Coleções Privadas de Arte Popular e Artesanato em Portugal – estamos agora a trabalhar no segundo livro das Coleções. Ao mesmo tempo, também fizemos algumas publicações sobre objetos específicos – como os Pratos Falantes –, e agora preparamos uma nova publicação que sairá em junho para acompanhar uma exposição que vou fazer. Também trabalho num livro sobre Casas Portuguesas com História, com Ana Anahory e Birgit Sfat. Portanto, acho que os livros de hoje ocupam uma parte importante do meu dia.
Depois, há as exposições, que no início eram só no meu ateliê, mas que começaram a se espalhar para outros espaços – o que me interessa bastante porque de repente são outros contextos e outras conversas. É o que vai acontecer em junho, na Galeria Platão, em Évora, que para além de ser outro espaço é também noutra cidade, o que me traz alegria por alargar o campo de estudo e me possibilitar conhecer outro público.


Quantos artistas tem no seu portfólio?
Relativamente às exposições, diria que estão entre os 80 e os 100 artistas. Tento sempre, em cada exposição, trabalhar com artistas com quem nunca trabalhei e manter outros com quem tenho trabalhado. Mas, no fundo, o que realmente define os artistas que vão trabalhar em cada exposição é o tema. É a partir do tema que pensamos nos artistas que possam de alguma forma identificar-se, ou cujo trabalho já toca nesse tema, ou por curiosidade em ver como responderiam a um tema que não é tão óbvio para eles. Mas é sempre o tema que dita quais artistas serão convidados e/ou procurados, para haver sempre uma parte de descoberta e de novos encontros.


A ideia é só trabalhar com artistas locais ou há espaço para parcerias com artistas de outros países?
Até agora tem sido assim (somente com artistas locais). Muito porque sinto a necessidade de afunilar, para ficar focado e não me dispersar muito. Em relação à coleção, sou diversa – só podem ser peças produzidas em Portugal –, e tenho adotado a mesma lógica de expor apenas peças de artistas que trabalham em Portugal – não precisa ser português. Mas apenas por uma questão de coerência com a pesquisa, para poder ir mais a fundo nos temas envolvidos e para me concentrar. Contudo, não gosto de dizer que nunca e quero manter a mente aberta. Mas na verdade, neste momento, o que me faz sentido, por uma questão de tempo, é concentrar-me apenas nas peças feitas em Portugal.
Quanto seu ateliê também está presente em sua casa? Ou a decoração da casa é muito diferente do ateliê?
A casa e o ateliê têm muitas semelhanças. Mas em casa são mais as pinturas e no ateliê mais as cerâmicas. Não vivo sozinha, tento respeitar as outras pessoas, e tenho filhos, logo há um perigo eminente para as cerâmicas e daí existirem menos em casa. Mas há um fio condutor nas peças que você compra e esse olhar é obviamente o mesmo.


A cerâmica portuguesa é conhecida em todo o mundo, inclusive muitas empresas de outros países obrigam a fabricar as suas peças/coleções aqui. Há algum risco de a cerâmica tradicional portuguesa, em especial a pintada à mão, ser substituída por estilos contemporâneos que nem sequer remetem à cultura local, ou às diversas culturas do país?
Quando falamos de cerâmica feita por encomenda, falamos de um ambiente fabril e de uma escala completamente diferente. No dia-a-dia, nas olarias, onde estão os artesãos a produzir peças artesanais, não sinto esse risco porque a escala é pequena e continua a ser bastante íntima, não existe a mesma capacidade de resposta e ainda bem, porque se mantém humana e feita à mão dentro de uma intimidade. Não me parece que haja risco de se perder uma identidade local, porque são padrões que são transmitidos há muitos anos e que já fazem parte da nossa identidade, sem termos essa consciência. Por isso, não me parece que exista um grande risco de desvirtuar isso.
Fotos: Carol Lancelotti